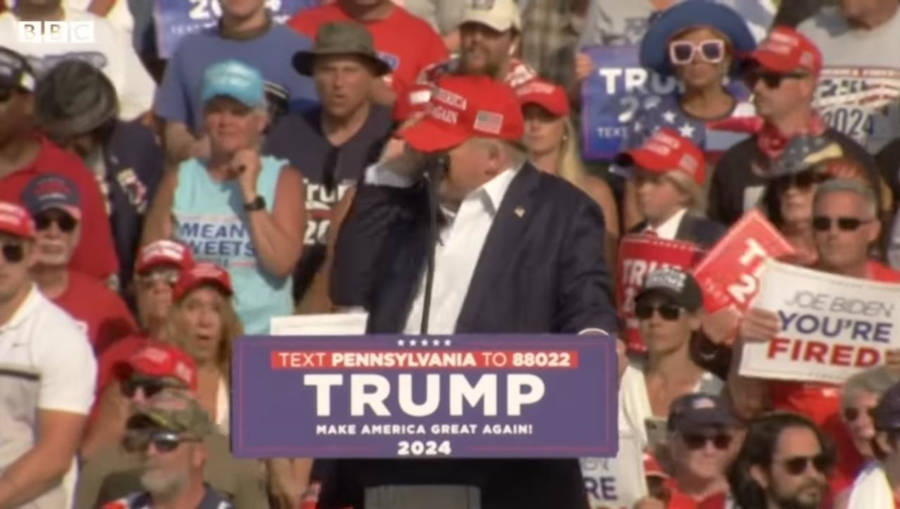De acordo com certas narrativas, todos nós vivemos na sombra do “Consenso de Washington”. O termo foi cunhado em 1989, por um economista do Instituto Peterson para Economia Internacional, um centro de análise de Washington que acabaria sendo considerado um dos principais fomentadores da globalização e do livre comércio. Na época, a expressão se referia a um conjunto de escolhas políticas adotado por líderes latino-americanos para conter suas crises de dívida calçados por instituições com base em Washington, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário Internacional.
Essas políticas de solução envolviam algumas prescrições críticas e familiares — controlar gasto público, privatizar estatais, liberalizar o comércio, desregular o setor empresarial e se abrir para o investimento estrangeiro. Elas estavam amarradas a dogmas classicamente liberais em relação à primazia do mercado, assim como a uma ordem internacional forjada pela proeminência financeira e militar dos Estados Unidos. E pressupunham um mundo em que interesses econômicos mútuos abrandariam a sórdida inconveniência da geopolítica.
Após a Guerra Fria, o “consenso” virou uma ortodoxia global — fundação de um mundo “uniforme”, em que a história havia “chegado ao fim”. Seu auge, conforme o colunista Edward Luce, do Financial Times, notou recentemente, pode ter chegado mais de duas décadas atrás, quando os EUA celebraram a entrada da China na Organização Mundial do Comércio. Aquilo prefigurou uma onda de globalização agora vista em termos amplamente negativos no Ocidente, em que, conforme a China se tornou o polo de manufatura do mundo e potência global ascendente, desindustrializações e desigualdades crescentes têm pressionado sociedades em ambos os lados do Atlântico.
O secretário de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan Foto: Andrew Harnik/AP
O impacto do antigo “Consenso de Washington” paira sobre o governo Biden. “O chamado ‘choque China’ que atingiu com força especialmente os bolsos da nossa indústria manufatureira, com impactos grandes e duradouros, não foi antecipado adequadamente e não foi abordado adequadamente conforme transcorreu”, afirmou na semana passada o conselheiro de segurança nacional da Casa Branca, Jake Sullivan. “E coletivamente essas forças desgastaram as fundações socioeconômicas sobre as quais qualquer democracia forte e resiliente se sustenta hoje.”
Na visão de Sullivan, acertar as contas com esse legado e com os desafios em curto e longo prazo da pandemia e das mudanças climáticas “exige que forjemos um novo consenso”. Ele falava na Brookings Institution, na quinta-feira, pronunciando um discurso que foi amplamente considerado por analistas a ilustração mais clara até aqui da visão maior do governo Biden a respeito da maneira de avançar e do dilema de confrontar a China.
Continua após a publicidade
Sullivan é o principal defensor da “política externa para a classe média” do presidente Joe Biden, uma abordagem que estrutura os interesses dos EUA no exterior em torno de estratégias que revitalizam o país domesticamente. Os elementos que a distinguem, até agora, têm sido peças de legislação como as titânicas Lei de Redução da Inflação e Lei dos Chips, que marcam uma agenda que, conforme colocou Sullivan, “investe nas fontes das nossas forças econômicas e tecnológicas” e “aciona capital para entregar benefícios públicos, em áreas como meio ambiente e saúde”.
Críticos, porém, veem na corrente adoção de política industrial por parte do governo um retorno a uma era de protecionismos perigosos, com implicações nefastas para a economia global e o futuro do comércio internacional.
“Líderes empresariais criticaram Biden por não perseguir nenhum acordo comercial, o que geralmente oferece a outros países acesso especial ao mercado americano em troca de benefícios similares para exportadores americanos”, explicou meu colega David Lynch. “Em vez disso, o presidente propôs acordos ‘de ordenamento’ na Ásia e na América Latina, que ligariam parceiros comerciais dos EUA em um arranjo cooperativo envolvendo padrões para comércio digital e medidas para promover cadeias de fornecimento mais fortes.”
A nova derrogação, argumentou Luce, do Financial Times, é “pessimista”, pois os EUA “não podem fazer acordos comerciais, não podem negociar regras digitais globais, não podem estar em conformidade com as decisões da OMC e (…) perdem a fé no multilateralismo econômico”. Ele acrescentou: “o consenso antigo era um jogo de soma positiva; se um país enriquecia, outros países também enriqueciam; o novo jogo é de soma zero, em que o crescimento de um país ocorre à custa de outro”.
Sullivan, que parece ter lido a coluna de Luce antes de pronunciar seu discurso, rejeitou a dicotomia. Ele disse que “a ideia de que um ‘novo consenso de Washington’ (…) é de alguma maneira os EUA sozinhos ou os EUA mais o Ocidente à exceção de outros é completamente equivocada” e expôs uma visão, pode-se argumentar, nuançada do estado atual das coisas.
Sullivan reconheceu o fato de que, apesar de qualquer tensão e confronto com Pequim, o comércio entre EUA e China continua robusto e atingiu níveis recorde no ano passado. E ecoou a retórica da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que falou em “reduzir exposição ao risco” de sobre-exposição das cadeias de fornecimento europeias à China em vez de “desvincular-se” do que, segundo alguns indicadores, já é a maior economia do mundo.
Continua após a publicidade
O movimento americano para limitar o comércio com os chineses de itens capazes de impulsionar inteligência artificial e excelência tecnológica na China são, segundo a definição de Sullivan, uma exceção, não a norma. “Nossos controles de exportação continuarão estritamente com foco em tecnologias capazes de alterar o equilíbrio militar”, afirmou ele. “Nós estamos simplesmente garantindo que tecnologias dos EUA e dos nossos aliados não sejam usadas contra nós. Não estamos aniquilando o comércio.”
E ainda assim ele acha que o momento atual deve forçar uma revisão das “suposições exageradamente simplistas” do passado — incluindo restaurar uma aceitação de intervenções do Estado mais direcionadas quando necessário e expelir a adoção da liberalização comercial enquanto fim em si. “A integração econômica não impediu a China de expandir suas ambições militares na região nem a Rússia de invadir democracias vizinhas”, afirmou Sullivan. “Nenhum desses países ficou mais responsivo ou cooperativo.”
Um grupelho de seguidores do governo Biden concordou com Sullivan em um painel organizado recentemente pelo Instituto Roosevelt, de esquerda. “Ficou muito claro que décadas de fundamentalismo de livre mercado tinham deixado nosso país realmente vulnerável e enfraquecido nossa segurança nacional e que nós não tínhamos mais capacidade de produzir itens essenciais”, como chips e medicamentos, afirmou Sameera Fazili, ex-autoridade do Conselho de Economia Nacional da Casa Branca.
Jennifer Harris, ex-especialista em economia do Conselho de Segurança Nacional, afirmou que é de interesse dos EUA que outros países reproduzam suas políticas industriais e subsídios para tecnologias verdes. “Vocês não apenas têm nossa permissão para fazer isso também, mas nós precisamos que vocês façam isso também”, afirmou ela. “E nós vamos começar a reorientar a política externa americana no sentido de globalizar a ideia da política industrial verde.”
Trata-se de um projeto ambicioso, que, reconheceu Sullivan, exigirá um “compromisso dedicado” para ser realizado nos próximos anos e décadas tanto na construção da cooperação no exterior quanto em navegar domesticamente por polarizações e divisões amargas. O que Sullivan vislumbra “requer aceitação de uma ampla circunscrição de atores domésticos e economias aliadas”, tuitou Emily Benson, especialista em comércio do Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais, de Washington. “Também requer tempo, que não está do lado do governo.” / TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL